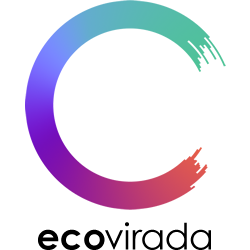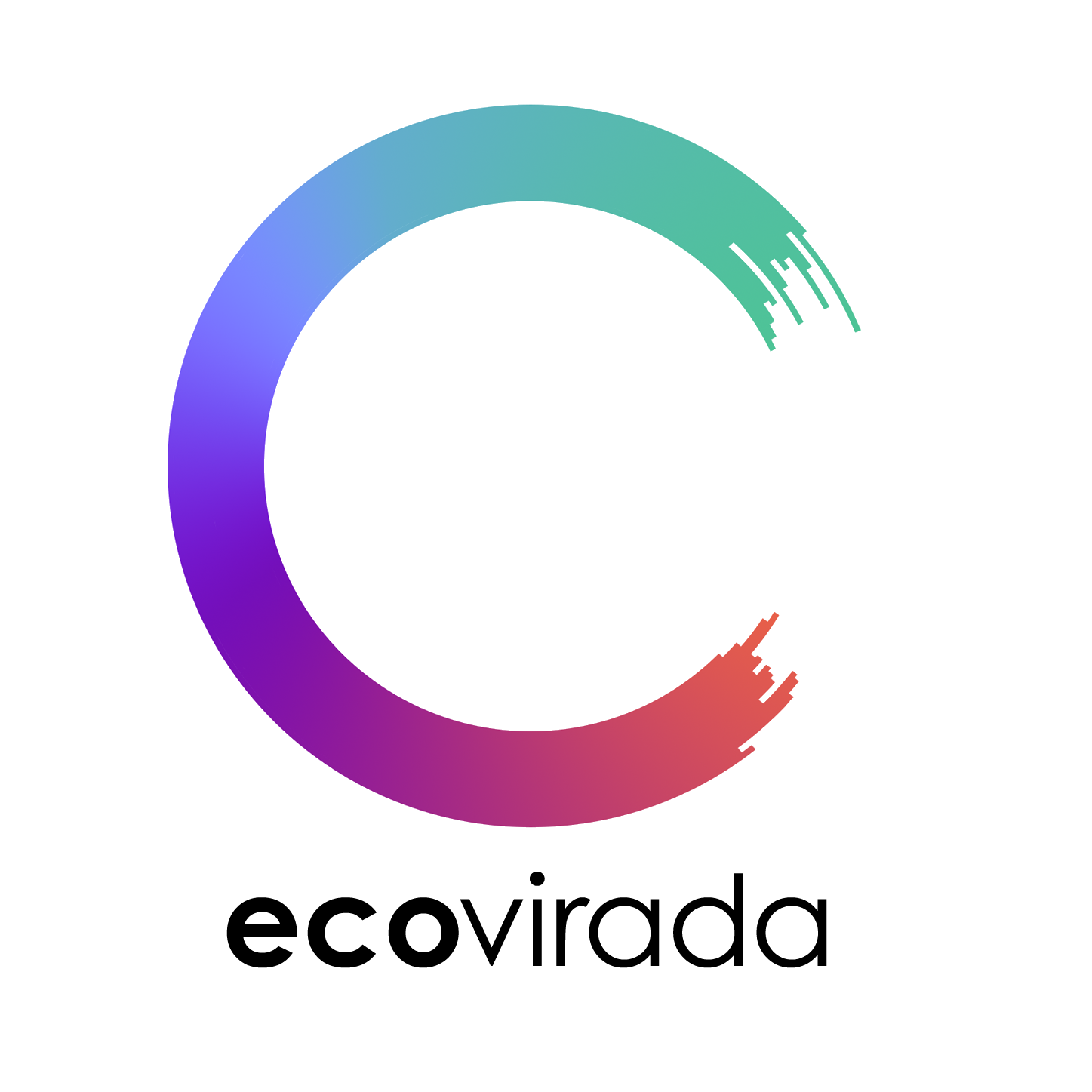Para a sua exposição Amazônia, no SESC Pompeia, Sebastião Salgado fez um levantamento das tribos fotografadas, que o Ecovirada aqui reproduz. Além de constituir um suporte da exposição, anunciada em outro post do site, o levantamento vale por si só, pelas significantes informações que traz sobre diferentes povos indígenas do Brasil. A foto é dele, claro!
XINGU
O Parque do Xingu é o território indígena mais conhecido no Brasil e no mundo, consagrado pelas imagens de suas festas e a influência sobre a literatura brasileira ao longo de toda a segunda metade do século 20. Foi a primeira grande reserva indígena criada no país para proteger um conjunto de diferentes etnias.
No Território Indígena do Xingu (seu nome oficial), localizado no atual Estado do Mato Grosso, vivem cerca de 6 mil indígenas de 16 grupos étnicos, pertencentes a cinco troncos linguísticos. Esta vasta área situa-se entre dois biomas distintos, a Amazônia e o Cerrado, o que lhe confere características de ambos, principalmente a diversidade da fauna e a exuberância da floresta. Mas o regime de chuvas e secas é bem mais acentuado do que na floresta tropical ao norte.
As aldeias são formadas por casas comunais dispostas em um perímetro ovalado, em torno de uma praça de terra batida. Ao centro da praça fica a “Casa dos Homens”, onde são guardadas as flautas sagradas, que as mulheres são proibidas de ver. Por isso, são tocadas apenas dentro deste ambiente menor ou à noite, quando as mulheres se recolhem. A praça é o local de eventos públicos: as festas, os enterros dos mortos, os discursos dos líderes e os combates cerimoniais.
O sistema de integração cultural, com uma divisão social da produção de bens, faz cada grupo ser identificado pela criação mais sofisticada de objetos, desejados por todos, como a cerâmica dos Waurá, os arcos e flechas dos Kamaiurás, o colar de caramujos dos Kuikuro e o sal dos Awetis e Mehinako. Esses produtos são negociados nos rituais de troca chamados moitarás, que ocorrem ao final das grandes festas.
Essas grandes celebrações são a afirmação mais visível das harmônicas relações entre os habitantes do Alto Xingu. As festas do Kuarup, Javari e Yamurikumã promovem grandes reuniões de moradores de várias comunidades em rituais conjuntos, nos quais as mitologias de cada povo se mesclam em enredos semelhantes.
AWÁ-GUAJÁ
Os Awá-Guajá são um povo indígena de baixo contato, quase “isolado”, vivendo no Maranhão, estado que nas últimas décadas sofreu uma intensa exploração madeireira ilegal. Seu nome mistura a identificação oficial, Guajá, e sua autodenominação, Awá. Os estudos de etnolinguística indicam que eles habitavam um território do atual Estado do Pará, a oeste, quando integravam um mesmo grupo de língua Tupi-Guarani com os indígenas Guajajara e Tenetehara. No início do século 19, se separaram e migraram para leste, em direção ao Maranhão. Hoje, vivem em duas Terras Indígenas (Alto Turiaçu e Caru), que dividem com outras etnias de contato mais intenso: Ka’apor, Timbira e Guajajara.
A devastação de suas terras começou após a descoberta de vastas jazidas de minério de ferro, na década de 1970. O governo brasileiro construiu uma ferrovia e um sistema rodoviário, que cortavam a terra dos Awá, para transportar o minério de ferro da Serra de Carajás para a costa. Milhares de invasores ilegais ocuparam a região, e muitas famílias Awá foram brutalmente massacradas.
Após cerca de cinquenta anos de invasão do território por madeireiros ilegais, com seu território se reduzindo, entidades de defesa dos indígenas denunciaram sua extinção e a “ocorrência de genocídio”. Hoje, o grupo dos Awá-Guajá não passa de 450 membros, entre os quais aproximadamente uma centena vivem isolados. A ONG britânica Survival International considera-os como a “tribo mais ameaçada da Terra”.
SURUWAHÁ
Instalados no Estado do Amazonas, os Suruwahá escolheram viver em uma situação de quase total isolamento, e por isso mantêm suas tradicionais práticas culturais extremamente preservadas.
Os indígenas produzem todo o alimento que consomem, com técnicas agrícolas aprimoradas. Para caçar, usam armas tradicionais, o arco e a zarabatana, com flechas de pontas envenenadas. São especialistas no uso de venenos. Eles não têm líderes oficiais, mas os melhores caçadores de antas são considerados como madi iri karuji, “pessoas de valor”, e admirados em proporção ao número de suas presas.
Seu corpo forte é um sinal de saúde que procuram ressaltar. A força muscular é destacada em atividades coletivas, como no ritual de levar mandioca ralada da maloca até o rio, para fermentar. Entre 600 a 800 quilos de mandioca descascada são carregadas em um imenso cesto, ou paneiro, de cerca de 2,5 metros de altura.
Os Suruwahá têm alto índice de suicídios, provocados pela ingestão de timbó (Derris elliptica), substância altamente tóxica, usada por indígenas para a pesca. Segundo sua mitologia, a vida é simplesmente ceifada pelo espírito agressivo da planta. A maior parte dos casos ocorre entre indígenas de 14 a 28 anos, em pleno vigor físico. Os Suruwahá acreditam na existência de três céus ou planos para onde vão os mortos. Aquele onde a vida é mais favorável reúne os que morrem fortes e saudáveis. Os dois outros acolhem os que foram picados por cobra e os que falecem na velhice.
ASHÁNINKA
Os Asháninka são um dos grupos indígenas com a mais antiga história conhecida: registros de seu relacionamento econômico e cultural com o império Inca, que das montanhas do Peru dominou grande parte da América do Sul até a chegada dos espanhóis, remontam aos séculos 15 e 16. Na época, eram chamados de “Antis”, e vendiam aos incas produtos da floresta, tais como penas, peles, algodão, tecidos e plantas (grãos ou madeira). Recebiam em troca objetos de metal (machados de cobre, joias de ouro), talvez pedras semipreciosas, outros tecidos e lã.
A ligação dos Asháninka com os Incas é tão antiga e profunda que está registrada até mesmo nos mitos sobre a criação do mundo e dos homens, como se os dois povos tivessem nascido um do outro. Diz um mito desses, narrado pelo xamã Moisés Piyãko:
“Um dia, há muito tempo, havia uma comunidade Asháninka, e no centro dela tinha uma lagoa. De dentro do lago, eles ouviam o canto de uma galinha. Um dia, alguém pegou um anzol para pescar. A cada isca que colocava, fisgava algo: galinha e outros bichos que não existiam. Por vezes, pescava um Inca. Por isso, os Incas viveram primeiro com os Asháninka. Mas um dia se afastaram para morar mais longe, e aí passou a existir o povo Inca. O que meu povo precisava, buscava nas cidades dos Incas. E o que eles precisavam, compravam dos Asháninka. Os Incas não sabiam andar na floresta. Não desciam para a floresta, ficavam só na montanha”.
Ainda segundo sua mitologia, depois que os espanhóis, que eles chamam Wiracocha, dominaram o território, o deus supremo dos Asháninka, Pawa, decidiu impedir que os sábios contassem aos invasores os segredos de seus poderes. Pawa escondeu a sabedoria ao transformar os sábios em animais. Mas precisava preservar a capacidade de alguns homens acessarem esses conhecimentos. Por isso, criou a ayahuasca, bebida que põe homens em contato com o mundo espiritual. É “a chave para a gente conseguir penetrar em todos os encantos que estão guardados”.
YAWANAWÁ
Em cerca de 50 anos, os Yawanawá saíram da absoluta invisibilidade para um período de grande exuberância cultural, tornando-se referência para o mundo em termos de vida sustentável em harmonia com cultura indígena. Em 1970, sua comunidade não contava com mais de 120 membros, com altíssimo índice de alcoolismo e consequente desagregação social e cultural, a ponto de sua língua ficar ameaçada de extinção. Eles eram pressionados a não usar o idioma diante de não indígenas, principalmente por donos de seringais, que dominaram as florestas do Acre desde o final do século 19 e os tratavam como escravos. O objetivo era o de impedir que a língua pudesse revelar a existência de indígenas capazes de reivindicar a propriedade da terra. Outra ameaça era a missão evangélica que havia imposto o culto cristão, cujos religiosos acusavam os ritos indígenas tradicionais de “diabólicos”.
“Nossa língua foi proibida, só os velhos a conheciam, as crianças só aprendiam o português. Nossas crenças e tradições eram consideradas diabólicas pelos missionários, e muitos de nós acreditavam nisso. Passamos a viver como escravos no trabalho e na cultura”, conta Biraci Brasil Yawanawá, o Bira, que no início dos anos 1990 assumiu a liderança do grupo. O novo líder logo expulsou a missão religiosa, eliminou as bíblias, restabeleceu o ensino da língua tradicional, do tronco Pano, e passou a incentivar o estudo dos antigos mitos e histórias, como forma de reconectar as novas gerações aos conhecimentos e memórias dos mais idosos. Em três décadas, a população cresceu dez vezes, hoje são cerca de 1,2 mil indígenas. Os Yawanawá se tornaram a prova viva de que indígenas, controlando suas terras, podem aliar cultura tradicional a empreendedorismo. Eles recuperaram a tradição dos rituais antigos e falam a língua ancestral, mas se conectam ao mundo contemporâneo usando smartphones e computadores, por meio de antenas de wifi instaladas nas aldeias.
Um dos aspectos marcantes da recuperação de suas antigas tradições é a arte plumária: os Yawá produzem alguns dos mais elegantes trabalhos com penas de toda a Amazônia. Em sua maioria, são feitos de penas brancas de águia, considerada como um animal sagrado.
YANOMAMI
Os Yanomami são a maior etnia indígena de baixo contato em todo o mundo. São, hoje, em número de 40 mil, sendo 28 mil no Brasil e cerca de 12 mil na Venezuela. Eles vivem em uma cadeia de montanhas e vales no extremo norte do Brasil, na maior terra indígena do país, situada na fronteira com a Venezuela. O território se estende do norte do Estado de Roraima até o Rio Negro, no Estado do Amazonas. Entre eles, há pelo menos um grupo isolado.
Há cerca de mil anos, este grupo habitava em torno da mais alta cordilheira do território brasileiro. Antes disso, vivia nos cumes da cordilheira. Ao longo dos séculos, o contato com os não indígenas dizimou os habitantes dos vales e permitiu a expansão dos Yanomami pelas zonas baixas do território.
Foi a partir da segunda metade do século 20 que ficaram mais expostos à presença de representantes não indígenas, missões religiosas, agentes do Estado brasileiro incumbidos da marcação das fronteiras e os primeiros exploradores. A partir dos anos 1970, sob a ideologia desenvolvimentista que imperava, a ditadura militar brasileira (1964-1985) decidiu passar por suas terras um conjunto de rodovias. Despreparados para resistir às doenças trazidas pelos brancos, os indígenas passaram a sofrer sucessivas epidemias de gripe, malária, sarampo e doenças sexualmente transmissíveis.
No final dos anos 1980, uma onda estimada de 30 mil a 40 mil garimpeiros invadiu a região (cinco vezes mais do que a população indígena da área invadida), com a anuência tácita dos órgãos federais de proteção aos povos indígenas. Em pouco tempo, morreram 15% da população indígena afetada.
Os garimpeiros foram expulsos pelo governo federal, que também reconheceu como território indígena toda a área de 96 mil km2 indicada pelos estudos antropológicos.
O xamanismo é um elemento fundamental da cultura Yanomami. Seu principal líder é o xamã Davi Kopenawa, um pioneiro da campanha pela criação da Terra Yanomami, a partir do final dos anos 1970. Durante a crise da invasão garimpeira, em 1988, ele ganhou um prêmio do Programa Ambiental das Nações Unidas. Mais recentemente, em meio a mais uma onda de invasões, foi o ganhador do prêmio Right Livelihood, popularmente chamado de “Nobel Alternativo”.
MACUXI
Um dos mais antigos territórios indígenas reconhecidos no Brasil, cuja demarcação teve início em 1919 – como revela um marco fixado na aldeia Maturuca pelo pioneiro do indigenismo brasileiro, General Cândido Rondon – a terra dos Macuxi foi sendo progressivamente expropriada ao longo do século 20, ocupada por fazendeiros de gado e arrozeiros. Primeiro isso foi feito como empréstimo, depois como posse forçada e, ao final, houve a expulsão dos indígenas da maior parte do território.
Ao final dos anos 1970, os indígenas haviam perdido a posse da terra para fazendeiros que se recusavam a reconhecer o direito histórico dos povos originários. Os indígenas viviam concentrados em vilas, ameaçados constantemente pela violência dos pistoleiros armados a serviço dos donos das fazendas. Foi um longo movimento, iniciado em 1980, chamado “Ou Vai ou Racha”, que iniciou a mobilização indígena e a exigência do reconhecimento de seu direito à terra.
Uma nova liderança surgiu nessa época, com o projeto de recuperação dos elementos culturais, do orgulho e da língua. Por isso, muitos dos jovens líderes da época são até hoje professores. Eles prepararam a nova geração que reconquistou o direito à terra. Estas fotografias documentam aquele momento do início do movimento de recuperação da terra.
A decisão final ocorreu com o reconhecimento da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e sua homologação pela administração federal em 2005, e a confirmação da decisão pelo Supremo Tribunal Federal, em 2009.
Como seu nome sugere, a Terra Indígena Raposa Serra do Sol é dividida em duas áreas, com climas distintos: ao sul, os campos (chamados “Lavrado”) ocupam cerca de 70% da área; ao norte, as áreas de serras, com uma floresta mais densa, correspondem aos outros 30% do território. O total de 1.747.460 hectares, é habitado por cerca de 26 mil indígenas de cinco povos. Os Macuxi, Ingarikó, Patamona e Taurepang pertencem a um mesmo grupo, denominado Pémon, da língua Karib (que dá nome ao Mar do Caribe, onde esse tronco linguístico surgiu). Já os Wapichana falam o idioma Aruak, língua oriunda da América Central.
KORUBO
Os Korubo são tão famosos quanto temidos por índígenas e não indígenas da região do Vale do Javari desde os anos 1970, quando agentes do governo brasileiro iniciaram prospecções minerais na região. A violência de suas reações às invasões de seu território logo chamou a atenção. Eles ficaram conhecidos como “índios caceteiros” pela forma como atacam suas vítimas, munidos de grandes bordunas.
Sua pele está sempre pintada do vermelho das sementes de urucum, mas foi da cor da lama que ganharam seu nome (na língua Pano, que compartilham com os vizinhos Marubos, Matsés e Matis). É um povo de terras altas, distante dos rios e seus onipresentes mosquitos. Quando se aproximam das margens, incomodados com tantas picadas de insetos, cobrem a pele com barro, para se proteger. Ao vê-los assim, os vizinhos Matis os apelidaram de “Koru-bo”, povo coberto de barro.
Até o contato, eles não usavam o arco e flecha, tão comum entre outros indígenas. Caçam pequenos animais com zarabatana, que usam com grande precisão. Os grandes animais, atacam com lança e borduna.
Viviam isolados até meados dos anos 1990, quando um grupo, quase todo com malária, se aproximou dos não indígenas em busca de ajuda. Hoje, os Korubo são cerca de 120 indivíduos vivendo em duas aldeias às margens do rio Ituí, na Terra Indígena Vale do Javari, no oeste do Amazonas, junto à fronteira com o Peru. Um outro grupo, pelo menos, segue vivendo sem contato na selva.
Classificados como “povos indígenas de recente contato”, ou pouca relação com os não indígenas, os Korubo vivem de forma tradicional. Poucos falam o português, e ainda têm grande fragilidade diante das doenças comuns entre não indígenas. Por isso, a presença de brancos é evitada em sua comunidade.
ZO’ É
O povo indígena Zo’é vive nas florestas do Estado do Pará, ao norte do rio Amazonas, mais preservadas do que aquelas da margem sul, em acelerado processo de devastação. Ali, já quase na fronteira do Brasil com as Guianas, o relevo é alto e de difícil acesso por rio ou por terra. Seu território tem uma superfície de 624 mil hectares. Em 22 de dezembro de 2009, essa terra foi oficialmente reconhecida como reserva indígena protegida.
Os Zo’é falam uma língua do tronco Tupi-Guarani. Não se denominavam Zo’é quando começaram a conviver intensamente com os “brancos”, nos anos 1980. A palavra, que quer dizer “nós”, era usada para dizer “somos gente”. Mas o uso recorrente da expressão acabou se tornando um termo de autodefinição, levando à compreensão da diferença entre eles e os outros povos com que passaram a conviver desde aquele momento: os “não indígenas”, que eles chamam kirahi.
Como muitos outros povos originários das Américas, os Zo’é acreditam que, no início dos tempos, os outros animais, como as onças, eram também pessoas. Esse aspecto humano presente nos bichos é o lhes faz homenagear as caças: os porcos mortos recebem castanhas em suas bocas quando chegam à aldeia, porque são considerados convidados de honra do banquete em que serão ingeridos.
As mulheres usam colares finos feitos de conchas de caracol e também belíssimas tiaras de penas brancas do peito de urubus-reis. Esses pássaros são capturados pelos homens e mantidos na coleira como animais de estimação. Quando retornam de expedições de caça, os Zo’é alimentam primeiro os urubus, para que se mantenham saudáveis e possam fornecer as penas usadas para as coroas das mulheres.
Os Zo’é são os únicos indígenas do Brasil que usam o poturu, um botoque de madeira no lábio inferior. Poturu é o nome da madeira que usam para esse imenso piercing que é seu distintivo. A liderança é exercida de forma sutil, quase imperceptível para o observador estrangeiro. ’
MARUBO
Como outros povos indígenas do extremo oeste da Amazônia, os Marubo têm em sua mitologia uma forte influência da memória de suas relações com o império Inca. Várias narrativas míticas falam das viagens de seus ancestrais para buscar bens entre os Incas, como pedras, tão raras na região do Vale do Javari, de solo arenoso, onde habitam. Talvez devam seu próprio nome a esta relação com os Incas: a palavra Marubo não tem nenhum significado em sua língua, da família Pano, e uma explicação para sua existência é que seria uma corruptela do quíchua “Mayoruna”, povo do rio, que também servia para designar os seus vizinhos Matsés.
Os Marubo vivem em casas comunitárias, malocas de formato oblongo localizadas ao centro da aldeia. Toda casa Marubo possui um “dono”, o líder da comunidade, e que foi também o responsável por sua construção e manutenção de sua estrutura. Sua família ocupa os espaços mais próximos à entrada principal, o que o torna também uma espécie de guardião da casa.
Hoje, a população Marubo conta com pouco mais de 2 mil indígenas. A Terra Indígena Vale do Javari, onde habitam, é uma das maiores do Brasil, com 8,5 milhões de hectares, e serve de morada para diversas outras etnias: Korubo, Matis, Matsés, Katukina e diversos grupos isolados.
A experiência do convívio há mais de um século com os não índígenas é incorporada na formação dos jovens Marubo, para quem aprender bem o português é parte importante do amadurecimento. Por isso, muitos acabam se tornando tradutores e intermediários na relação com agentes do Estado (como enfermeiros nos postos de saúde indígena, por exemplo) e em apoio às ações dos órgãos indígenas, como se nota por sua participação constante nas expedições de contato de outras etnias da região.
(ESTÚDIO)
“Em minhas visitas aos indígenas, sempre carregava em uma grande sacola uma tela – de 6 x 9 m – para servir de fundo para sessões de retratos. Com meus assistentes, montávamos nosso ‘estúdio’ sob a sombra das árvores. Cobríamos o solo com uma lona de 7 x 10 m, que protege contra a umidade da terra, e se começasse a chover era possível enrolar rapidamente a tela. Essas fotos mostram os indígenas em toda sua beleza e elegância únicas, separando-os da exuberância da floresta. Por vezes, se vestiam para a ocasião, e aqui ‘vestir’ significa pintar o corpo, usar cocar de penas e segurar um macaco ou uma arma. Normalmente, muitas das atividades de uma comunidade indígena ocorrem em campos de pesca ou caça, longe das aldeias. Mas ao seu retorno, durante seus dias de repouso, ficava o dia todo sentado perto do estúdio, esperando que, aqueles que quisessem, viessem ser fotografados desta forma especial.” (Sebastião Salgado)
Estúdio localizado na aldeia marubo de Mati-Këyawaia, no vale do Javari, Estado do Amazonas, 2018.