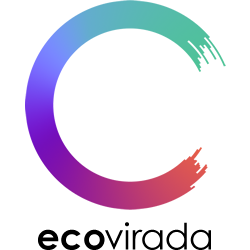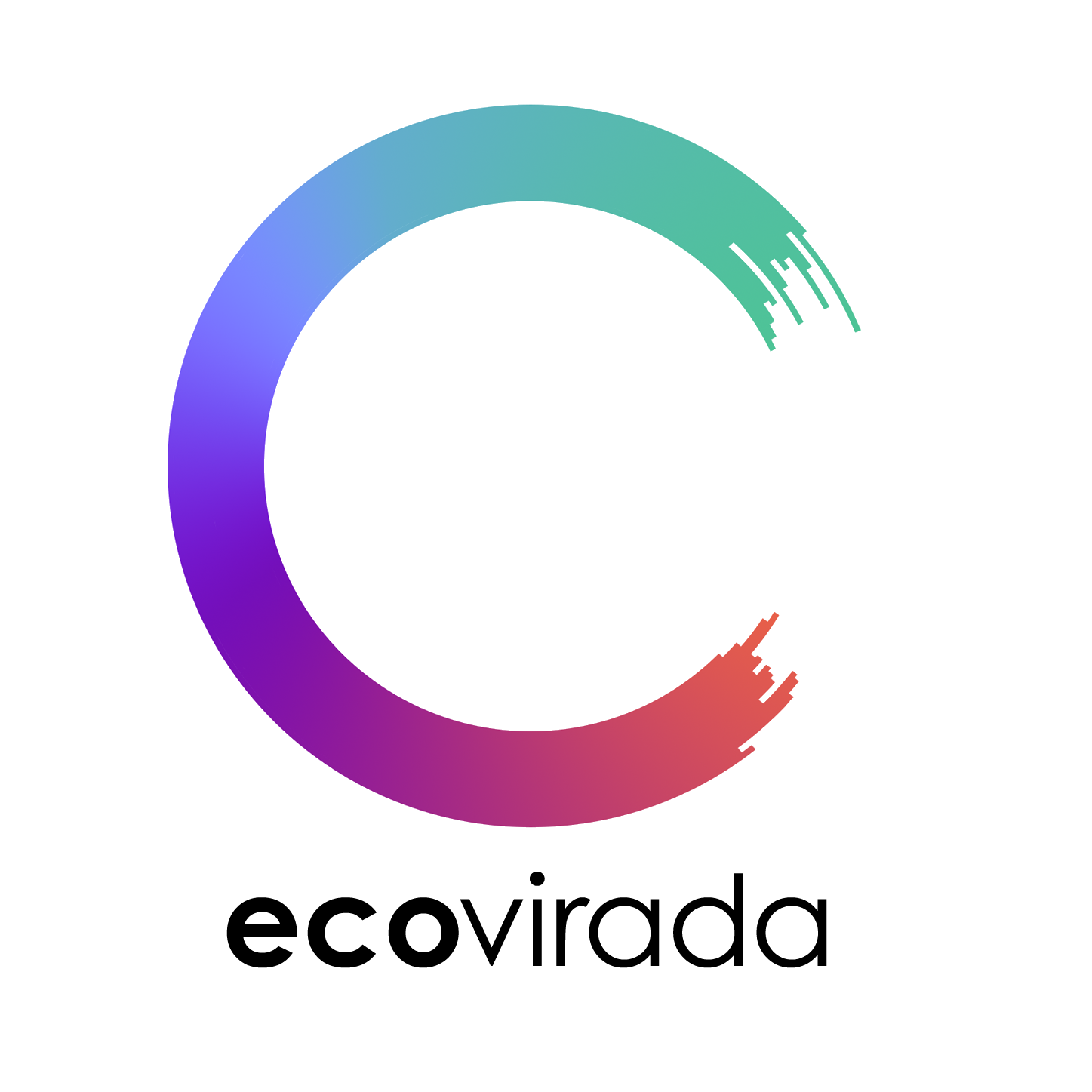Dez anos atrás, Carlos Nobre, do INPE, concedeu uma longa entrevista em torno do tema das mudanças climáticas a Sérgio Abranches, Manoel Francisco Brito, Carolina Elia e Andreia Fanzeres, jornalistas do informativo ecológico ((o)) eco. A entrevista foi apresentada no dia 5 de outubro de 2006 no site dessa excelente publicação.
A comparação das análises e projeções reportadas em 2006 pelo cientista com a situação atual permite diversas considerações:
(1) há evidente agravamento e aceleração das mudanças climáticas;
(2) há uma maior assertividade do discurso científico atual (em relação ao que era possível afirmar em 2006) sobre os impactos dessas mudanças sobre a biosfera e as sociedades humanas;
(3) todas as projeções formuladas em 2006 foram confirmadas ou mesmo se mostraram conservadoras;
(4) o metano, que em 2006 ainda estava estavelmente aprisionado no pergelissolo (permafrost) terrestre e sob o gelo das partes rasas do oceânico Ártico, está hoje sendo liberado a uma taxa crescente;
(5) o degelo da Groenlândia alcançou hoje uma velocidade muito maior do que observada e prevista em 2006, e, consequentemente, também o ritmo da elevação do nível do mar;
(6) os “tipping points”, pontos críticos que desencadeiam transições mais ou menos bruscas nos sistemas complexos, parecem hoje mais certos e iminentes do que em 2006.
Alerta vermelho – com Carlos Nobre
- quinta-feira, 05 outubro 2006 14:27
- Comente
Quando o climatologista Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), completou seu doutorado nos Estados Unidos, em janeiro de 1983, aquecimento global era uma tese científica que chamava a atenção por ser coisa de maluco. Hoje, maluco é quem não acredita nela. A mudança não é fruto somente da sofisticação da ciência em torno do assunto. Tem muito a ver também com o aumento da incidência de instabilidades ao redor do planeta nos últimos anos, que só tem como explicação o aumento do efeito estufa. Nobre, em fins de agosto, passou três horas na redação de O Eco discutindo o fenômeno e suas conseqüências para a Terra. O clima vai ficar mais variável e as ondas de calor serão mais freqüentes. O drama é que além desse cenário não estar num futuro distante, ele já começou a dar as graças pelo planeta, inclusive no Brasil. A seca do ano passado na Amazônia, por exemplo, foi tão extrema que uma explicação sobre ela deve levar em conta o aquecimento global. Nessa primeira parte de sua entrevista, Nobre diz que não dá mais para reverter completamente esse processo e que a humanidade precisa acordar para o fato de que ela terá que se adaptar, talvez em espaço muito curto de tempo, para sobreviver num ambiente que inevitavelmente será mais adverso.
Essas ondas de calor que aconteceram no Brasil no inverno são conseqüência do efeito estufa?
Carlos – Todo mundo faz essa pergunta. O problema é que você não pode atribuir um evento isolado ao aquecimento global. O que alguns resultados de simulação com modelos climáticos estão indicando é que esse tipo de evento meteorológico vai se tornar mais freqüente no futuro. O clima vai ficar mais variável e ondas de calor vão ser mais freqüentes.
Variável em que sentido?
Carlos – Os estudos estão indicando com bastante clareza que nós devemos esperar um clima com mais ondas de calor globalmente. Não se fez ainda nenhuma investigação específica para a América do Sul. Para a Europa há muitos estudos, por causa da onda de calor de 2003, aquela que matou trinta mil pessoas. Eles chegaram à conclusão de que a maior probabilidade é de que aquela onda de calor já fosse uma manifestação do aquecimento global. Aquela onda de calor foi a mais alta temperatura na Europa ocidental por pelo menos mil anos. Então, ela chamou a atenção. Extremos climáticos persistentes e intensos têm uma característica diferente, de variações climáticas corriqueiras, como, por exemplo, um dia quente em pleno inverno no Rio de Janeiro e que já aconteceu também no último inverno. Nesse caso, não se pode acusar o aquecimento global. Mas quando você começa a ver coisas que não aconteceram em 300 anos, em 500 anos, em 1000 anos, é nelas que se precisa prestar atenção.
O derretimento de geleiras é a única evidência empírica do aquecimento global?
Carlos – O que acontece é que a maioria dos sinais do aquecimento global aparecem não somente na temperatura, mas no efeito da temperatura. E o mais simples de ver é o derretimento de geleiras. Elas existem em áreas com temperatura abaixo de zero. Você vai subindo na montanha e a temperatura cai e quando chega ao zero a água congela e daí para frente é gelo e neve. Quando a temperatura do planeta vai aquecendo essa linha do zero grau vai subindo a montanha. Todas as geleiras nas regiões montanhosas do mundo, sem exceção, estão com a linha de 0 grau C subindo. Nos Alpes, há montanhas onde a linha do zero grau já subiu centenas de metros. Há cem anos a linha do zero começava num determinado ponto e eles vão documentando a diminuição do gelo à medida que esse ponto sobe. Nos Andes Tropicais, as geleiras estão decrescendo rapidamente. A previsão é de que talvez até 2030, no máximo 2050, não haverá mais gelo nos Andes Tropicais.
Nem um pouquinho?
Carlos – Calma. A neve continuará a cair nos pontos mais altos, como o Aconcágua, e vai formar gelo. Ele é um pico fora da curva em termos de altura, tem quase 7 mil metros, e para a neve sumir dele, o mundo vai precisar aquecer muito mesmo. Agora, picos até 4 mil e 500 metros, 5 mil metros de altura, vão perder suas geleiras. A do Kilimanjaro, na África Tropical, desaparece até 2030, ou antes, com grande certeza.
“A QUANTIDADE DESSE GÁS ESTÁ AUMENTANDO ANO APÓS ANO E ISSO É MUITO BEM MEDIDO. NÃO HÁ COMO ATRIBUÍ-LA A UM FENÔMENO NATURAL.”
Não existe uma outra explicação para este fenômeno além do aquecimento global?
Carlos – Os estudos são muito conclusivos no sentido de que a explicação mais plausível é que ele é resultante do efeito dos gases estufa. O efeito e suas circunstâncias são conhecidos há quase 200 anos, graças a um matemático e cientista francês, Jean Baptiste Fourier. Ele foi quem primeiro observou o fenômeno. Qualquer um hoje pode fazê-lo olhando para a luz solar que entra por um vidro de janela. Ele deixa passar o sol, mas bloqueia a saída do calor na forma de radiação térmica (calor). É simples assim. E no final do Século XIX foi feita a primeira projeção de que com o aumento do gás carbônico, devido à queima de carvão, a temperatura do planeta iria subir. Seu autor foi um cientista sueco, Svante Arrhenius. Ela baseou-se no conhecimento que o gás carbônico tem a propriedade de reter radiação térmica. O conhecimento da física do fenômeno, portanto, é antigo, robusto e detalhado. Se você joga um monte de gases que retêm calor na atmosfera e os sistemas naturais, o oceano e a vegetação, não conseguem remover todo este gás em excesso, o resultado é o aquecimento. A quantidade desse gás está aumentando ano após ano e isso é muito bem medido. Não há como atribuí-la a um fenômeno natural. Você olha as medidas de temperatura do planeta no todo e elas estão crescendo. Então, o efeito estufa é a melhor hipótese.
Os céticos desapareceram?
Carlos – No meio científico, quase não há mais céticos quanto à atribuição da causa do aumento da temperatura ao aumento da concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Há um punhadinho de cientistas que ainda dizem que nós vamos entrar uma nova era glacial em algum ponto no futuro não muito distante. Mas eu acho que a probabilidade deles estarem certos é muito pequena, porque a presença dos gases na atmosfera sobe tanto que em mais 50 anos nós vamos ter o dobro de gás carbônico nela do que tínhamos antes da revolução industrial,se não conseguirmos mitigar as emissões. E já passamos do dobro de gás metano que tínhamos antes da revolução.
Mas a gente já sabe onde isso nos levará?
Carlos – Vamos dizer assim: existem incertezas sobre as projeções e elas são de três naturezas diferentes. Para início de conversa, nós não sabemos qual é a trajetória futura do aumento dos gases: se o Protocolo de Quioto funcionar, ela pode diminuir. Se nada acontecer, ela pode subir, mas é impossível prever sua intensidade com régua e compasso. Não sabemos o padrão de evolução humana. Por exemplo, a China vai continuar queimando carvão por quanto tempo mais e em que intensidade? Além disso, pode haver uma instabilização e o gás carbônico que está preso no gelo permanente (permafrost), na Sibéria e norte do Canadá, acabar sendo liberado com o derretimento das camadas superiores do permafrost, que vem se acelerando. É mais um monte de gases que irá parar na atmosfera. Há metano preso no fundo do oceano e por enquanto ele é estável porque lá não acontece nada, não tem movimento nenhum. Mas vai que acontece. Se esse metano subir para a superfície é uma quantidade imensa que será liberada. Então, não sabermos projetar exatamente a trajetória futura das emissões a primeira incerteza e ela depende, principalmente, das ações humanas.
É uma incerteza sociológica…
Carlos – É uma incerteza sobre a trajetória das atividades humanas. É impossível prevê-las a longuíssimo prazo. A segunda incerteza é que a nossa capacidade de representar todos os processos que acontecem no complexo sistema que é o clima do planeta ainda é limitada. Em alguns aspectos nós não temos conhecimento completo de como os ciclos naturais funcionam, o ciclo do carbono, o ciclo de outros gases, o ciclo da água. Esse desconhecimento deixa a representação incompleta. Mas mesmo que fosse diferente, não teríamos capacidade de levar tudo em consideração com os computadores que temos hoje. Para poder saber o que está acontecendo, precisamos quantificar o conhecimento através do que nós chamamos modelo matemático do sistema climático, e aí obviamente nós temos que fazer os cálculos, projetar nesses modelos matemáticos o que poderá acontecer no futuro. Alguns cálculos exigiriam computadores 100, 1000 ou 10.000 vezes mais rápidos do que os que temos hoje. Provavelmente daqui há 10, 20, 30 anos, teremos computadores com capacidade tal de processamento que essa limitação vai diminuir muito. Mas aí esbarramos numa limitação que não se tem como vencer.
Qual?
Carlos – É uma limitação típica do estudo do clima. Existe um grau de imprevisibilidade intrínseca em qualquer sistema climático. Em outras palavras, nós estamos forçando a barra, despejando esses gases na atmosfera e em algum momento nesse processo, o sistema climático pode chegar no que chamamos de ponto de bifurcação: ele pode ir para a direita ou para a esquerda. Se você faz o cálculo com o modelo matemático, ele às vezes até indica as várias probabilidades das trajetórias futuras do sistema climático, mas não o rumo que ele realmente vai tomar. É uma loteria.
Apesar das incertezas, você não tem dúvida sobre a existência do fenômeno de aquecimento global?
Carlos – Não. O fenômeno existe. A melhor explicação – eu estou totalmente convencido e a maioria da comunidade científica também – é que o aquecimento vai continuar acontecendo e vai se acelerar. Não dá para dizer tudo com 100% de certeza, mas já é possível fazer algumas afirmações sem medo de errar. Quando falo em imprevisibilidade intrínseca, me refiro a impossibilidade de fazer uma previsão precisa para daqui a 100, 200 ou 300 anos. Mas se você pegar o caso do Rio de Janeiro para saber como o clima ficará ao longo desse período, se mais frio ou mais quente, a resposta é: vai ficar mais quente. Os fenômenos meteorológicos extremos vão ocorrer com mais ou menos freqüência do que hoje? Com maior freqüência. O que eu não posso é chegar a todos os detalhes. Por exemplo: é impossível afirmar como a Amazônia reagiria a uma mudança abrupta, se vai ficar mais seca ou não. Mas que a Amazônia vai estar mais quente, que secas e inundações vão se alternar com mais freqüência, isso são coisas que a gente pode dizer de modo geral.
“ESPERAMOS DEMONSTRAR QUANTOS POR CENTO DA SECA DA AMAZÔNIA DO ANO PASSADO SE DEVE AO AQUECIMENTO GLOBAL.”
Mas ainda existe um grau razoável de resistência a aceitar o fenômeno…
Carlos – Olha, este discurso perdeu força. Hoje há um trabalho muito bom dos professores Kevin Trenberth e Dennis Shea, do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas de Boulder, no Colorado, no qual demonstram que 7% da velocidade do vento do furacão Katrina podem ser atribuídos ao aquecimento global. Alguém vai dizer, mas só 7%? Mas 7% é muito porque o poder de destruição de um furacão é proporcional aproximadamente ao cubo da velocidade do vento. Então, esses 7% resultam em 23% de aumento do poder de destruição dos ventos. Isso quer dizer que o poder de destruição do Katrina provavelmente foi 23% maior do que seria se as águas do Atlântico não estivessem com temperaturas elevadas por conta do aquecimento global.
Aqui no Brasil, temos estudo desse tipo?
Carlos – Nós estamos fazendo um estudo, que não está concluído ainda, em que esperamos demonstrar quantos por cento da seca da Amazônia do ano passado se deve ao aquecimento global. Ela foi mais forte do que em anos anteriores porque o Atlântico Tropical estava até um grau mais quente e deste valor aproximadamente 0,5 C deve-se ao aquecimento global.
É possível fazer esta relação?
Carlos – É. O Atlântico Norte hoje está meio grau mais quente do que há 50 anos atrás, graças ao aquecimento global. Em 2005, esteve cerca de 1 C mais quente, sendo que 0,5 grau a mais é natural, são variabilidades que acontecem na escala de duas décadas e também como conseqüência do El Niño, por exemplo. Mas o resto, o meio grau do aquecimento global, esse não recua mais. Então, qual o efeito deste meio grau? Para o Katrina foram 7% a mais na velocidade máxima do vento, 15% a mais de chuva – e a chuva é muito importante por causa das inundações.
A questão climática é uma descoberta recente para o grande público?
Carlos – Aqui no Brasil é mais recente. Foram fenômenos climáticos importantes como o furacão Catarina, que atingiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina em 2004…
O Catarina pode ser atribuído ao aquecimento global ou não?
Carlos – Nunca houve um furacão registrado no Atlântico Sul. Portanto, o Catarina é mais ou menos como a temperatura da Europa em 2003. Foi algo fora da curva e por isso, chama a atenção. O que alguns estudos projetam é alguma evidência de que num planeta mais aquecido podem acontecer furacões no Atlântico Sul Subtropical, exatamente onde aconteceu o Catarina. Agora dizer que o Catarina é já é conseqüência do aquecimento do planeta seria hoje incorreto. Até porque ele foi um fenômeno atípico. Ele aconteceu sobre águas que não estavam muito quentes. Foi resultado de uma situação muito mais meteorológica do que oceânica. O furacão, para acontecer, precisa de duas condições básicas: a água tem que estar acima de 26° ou 26.5° e o vento em altitude tem que estar na mesma direção do vento da superfície. E não pode ser muito forte. Todo mundo pergunta: por que não forma furacão no Atlântico Sul Tropical e Sub-Tropical?
Por que não?
Carlos – Por uma razão muito simples. A água lá é quente, atinge às vezes 28° ou mais. Mas o vento em altitude, a 6, 7 ou 10 quilômetros de altura é tão forte que ele dissipa qualquer possibilidade de se criar um núcleo de furacão. Para ele se formar, a zona de nuvens intensas tem que estar alinhada quase na mesma direção de onde a água do oceano está evaporando. Então, se o vento de altitude é muito forte, ele leva toda a parte de cima e não forma o furacão. O Atlântico Sul não costuma ter furacões por causa desse segundo fator. O que aconteceu com o Catarina foi que por um período de muitos dias, os ventos a grande altitude ficaram fracos. Isso fez com que um fenômeno muito comum no Atlântico Sul, o ciclone extra-tropical, se transformasse num furacão. As causa dessa anomalia ainda estão sendo estudadas.
E foi furacão mesmo?
Carlos – Foi furacão. Quando você está passando, de um ponto de vista matemático, de um regime climático que estava mais ou menos estável por alguns milhares de anos, pelo menos 12 mil anos, e aí você rapidamente, em décadas, está mudando de estado, nesse transiente, você deve esperar muita oscilação, fenômenos inusitados que nunca aconteceram.
A transição então é mais instável?
Carlos – Sim, é mais instável. Mas isto não significa que vão acontecer muito mais Catarinas no Atlântico Sul. Para isso, será preciso aprofundar os estudos e aí talvez dê para afirmar com segurança que a região poderá ser uma área propensa à furacões no futuro. Qualquer coisa hoje fora da curva, do tipo que nunca foi observado antes, precisa ser estudada, como os ventos da França em 1999, que derrubaram 1/3 das árvores do sudoeste do país, as temperaturas altas, os furacões super intensos do ano passado no Caribe, o Catarina, a seca da Amazônia. Tudo isso agora precisa ser investigado ou como fenômeno inusitado, como o Catarina, ou como coisas que aconteceram no passado, como a seca no sudoeste da Amazônia, mas que aparentemente estão aumentando de intensidade.
Você se formou em que ano?
Carlos – Terminei meu doutorado em janeiro de 1983.
“O AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES NESSES QUASE 30 ANOS FOI NOTÁVEL, A PONTO DE TORNAR O TEMA A MAIOR PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL DA HUMANIDADE.”
O efeito estufa já era uma preocupação naquela época
Carlos – A primeira síntese com mais autoridade científica sobre o assunto foi feito em 1979 pela Academia de Ciências dos Estados Unidos. Meu orientador no doutorado nos Estados Unidos, Prof. Jule Charney, do MIT, era o presidente do comitê da Academia que fez este estudo. Ele chamou muita atenção na ocasião e encontrou muito ceticismo. Mas o avanço das investigações nesses quase 30 anos foi notável, a ponto de tornar o tema a maior preocupação ambiental da humanidade. E isso se deveu muito, em primeiro lugar, às projeções, que foram ficando mais sofisticadas, mais completas. Mas o principal não são as projeções do que vai acontecer no futuro. O principal são os efeitos que nós estamos vendo todos os dias. Estamos vendo a temperatura aumentar, o gelo derreter, o nível do mar subir, e detectando, mesmo com uma variação ainda relativamente pequena em graus Celsius, uma tremenda mudança na biologia e na ecologia. Quando se soma tudo isso, todas as pessoas têm uma noção clara de que a mudança climática é uma coisa que está acontecendo. E as projeções indicam que vai se acelerar.
O governo brasileiro se preocupa com o aquecimento global?
Carlos – Está na tela do radar do governo brasileiro e de outros governos? Sim. Mas mesmo dentro de cada governo, a ênfase que as mudanças climáticas têm, em termos de políticas públicas, é muito distinta. O Ministério do Meio Ambiente tem preocupações de diversas naturezas como, por exemplo, a biodiversidade. O Ministério da Agricultura tem preocupações com o futuro do agro-negócio. Vários ministérios têm preocupações ligadas à competitividade do biocombustível. O Ministério das Relações Exteriores tem preocupações de que o Brasil não seja atacado pelo desmatamento da Amazônia, que felizmente diminuiu nos últimos dois anos. Então, as mudanças climáticas globais estão totalmente dentro das preocupações do governo brasileiro, com distintos matizes.
O Congresso chama você para discutir esses assuntos?
Carlos – Chamou umas três vezes nos últimos sete anos. Recentemente estive numa comissão da Câmara e apresentamos estas questões todas. Foram bem recebidas e há um ou outro deputado muito interessado, como o Gabeira. O problema todo no Brasil é que nós estamos do lado perdedor, não é? Nós não podemos fazer muita coisa, porque a nossa matriz energética é relativamente limpa e o nosso grande problema é o desmatamento da Amazônia no que concerne às emissões nacionais dos gases de efeito estufa.
E as queimadas?
Carlos – Queimada não associada ao desmatamento pode representar um problema menor para o aumento das emissões de gases de efeito estufa, porque depois, quando a vegetação que estiver queimando voltar a crescer, ela seqüestra de volta o gás carbônico que a queimada lançou na atmosfera.
O pessoal da cana argumenta isso para dizer que o etanol é equilibrado, não é?
Carlos – É. Mas a questão da queima da cana é um problema de saúde pública gravíssimo. As pessoas ficam respirando aquele ar terrível. As queimadas deveriam ser banidas totalmente. A agricultura moderna deveria ser inimiga mortal do fogo. Se é ela que queremos, temos que abolir o uso do fogo, até mesmo na agricultura familiar. O fogo é muito mais uma tradição do que uma necessidade.
Como o desmatamento…
Carlos – Quando eu falo em desmatamento, eu falo na derrubada da floresta, seguida de queima do material que não foi aproveitado. Essa seqüência deixa no solo aquele resto de matéria orgânica se decompondo por anos e anos e aí tudo aquilo acaba como gás carbônico e outros gases na atmosfera. O Brasil é refratário a enfrentar esse problema. Eu tenho insistido muito que o Brasil deveria ser um líder mundial nas questões relacionadas com a redução das emissões. A matriz energética do Brasil pode ser a matriz energética mais limpa do mundo no tocante às emissões, por causa do biocombustível e da hidroeletricidade. Mas a questão do desmatamento, principalmente na Amazônia, segue sem solução permanente à vista, ainda que deva ser registrado o progresso nos últimos dois anos.
“NÓS AINDA TEMOS SÉRIAS DÚVIDAS SOBRE ATÉ QUE PONTO NÓS VAMOS CONSEGUIR RECURSOS NO BRASIL PARA MANTER ESTA QUALIDADE E RITMO DE PESQUISA.”
Você está com vários projetos voltados para Amazônia, muito ligados ao LBA (Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia). Esta pesquisa sobre a seca da Amazônia é do LBA?
Carlos – Sim, é uma pesquisa associada ao LBA. A primeira fase deste grande experimento científico agora está numa fase conclusiva e estamos fazendo sínteses de quase todas as pesquisas colocadas embaixo do seu guarda-chuva. Esta fase começou em 98 e está bem próxima do fim. Nesta primeira fase, o LBA se beneficiou de expressiva cooperação internacional, e muitos recursos americanos, europeus apoiaram as pesquisas, além de aportes do Brasil, país que lidera o LBA. Agora estaremos entrando, a partir do ano que vem, na segunda fase do LBA. Essa fase terá uma participação brasileira de liderança científica. E aí nós ainda temos dúvidas sobre até que ponto nós vamos conseguir recursos no Brasil para manter esta qualidade e ritmo de pesquisa.
Se você tivesse que defender o orçamento do LBA no Congresso, quais os três pontos que você chamaria a atenção dos parlamentares?
Carlos – É interessante essa pergunta, porque o LBA não foi muito na direção de se desenvolver um novo conhecimento ou um novo paradigma para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. É um experimento científico, de entendimento de como funcionam os ciclos naturais da Amazônia e como esses ciclos são alterados pelo desmatamento ou outros usos da terra. Recentemente, uma antropóloga americana, a Myanna Lahsen (“Challenges of Connecting International Science and Local Level Sustainability Efforts: The Case of the LBA”), para tentar entender porque o LBA teve dificuldades em criar os conhecimentos necessários para o desenvolvimento sustentável. Eu acho que esse ponto ilustra muito bem a dificuldade que nós temos para desenvolver a Amazônia. Porque é muito mais fácil se conhecer a Amazônia, mesmo que seja enorme e gigantesca a tarefa, do que você ter um roteiro, um livro de receitas de como desenvolver, gerar riqueza e emprego na região sem destruí-la. Esse paradigma do desenvolvimento sustentável é sempre falado. Mas não se chega a ele com facilidade. Nós notamos com o LBA é que as interfaces entre conhecimento científico mais puro e o conhecimento aplicado para o desenvolvimento sustentável não foram transpostas.
Como assim?
Carlos – Mesmo quando a ciência está disponível, raramente se consegue convertê-la em desenvolvimento tecnológico. O Brasil, por exemplo, nos últimos anos, tem aumentado muito a geração de conhecimento científico de ponta, medida pelo número de publicações qualificadas que a comunidade científica produziu. No ano passado, 17 mil delas foram indexadas internacionalmente. A Coréia do Sul, para fazer uma comparação, publicou mais ou menos o mesmo número, 18 mil. Mas o Brasil registrou 150 patentes no escritório de patentes do governo dos Estados Unidos. A Coréia registrou mais de 3 mil. Isso dá uma idéia das dificuldades que nós temos de converter conhecimento científico em algo utilizável pelo mercado ou pela sociedade. Então, se eu fosse convencer o Congresso e o governo, na fase 2 do LBA, eu diria que nós temos que cruzar esta fronteira. A fase 2 do LBA tem que ser muito mais aplicada. Não podemos esperar ad infinitum para ter todo o conhecimento do funcionamento dessas centenas de diferentes ambientes e ecossistemas para ter soluções práticas.
Como você desenharia o novo LBA?
Carlos – O LBA fase 2 tem que contribuir com a base científica para o avanço da bioindústria da Amazônia. Isso é o que eu diria para o Congresso. Você não desenvolve nenhuma tecnologia principalmente nova, inovadora, se você não tiver uma enorme base científica. Os Estados Unidos e a Europa não vão desenvolver a base científica para a bioindústria necessária à Amazônia. Nós teremos que fazê-la. O LBA tem que continuar com algumas linhas importantes, de entendimento dos ecossistemas, mas ele tem que caminhar rapidamente para desenvolver a base científica do uso econômico da biodiversidade. Isso é coisa muito cara. Qualquer desenvolvimento tecnológico normalmente é 5 a 10 vezes mais caro que a geração de novo conhecimento científico.
Quem paga?
Carlos – Essa é outra coisa que o Brasil não tem. Quem faz desenvolvimento tecnológico no mundo todo é o setor privado, a partir de parcerias com o setor público, que em geral se encarrega de financiar o conhecimento científico básico. Em cima dele, os caminhos mais promissores para desenvolver tecnologia passam a ser abertos pelo setor privado. Infelizmente a indústria brasileira não tem desenvolvimento tecnológico digno desse nome e há muitas e complexas razões que explicam o pequeno empenho da indústria brasileira neste campo de inovação tecnológica e P&D.
A fase I do LBA deu resultados?
Carlos – Grandes resultados. Hoje nós sabemos muito mais sobre o ciclo da água na Amazônia, o que determina as chuvas, quais as propriedades físicas das nuvens na região. As nuvens da Amazônia são muito diferentes de nuvens de outras regiões tropicais. Elas parecem mais nuvens oceânicas, os topos estão em alturas mais baixas na estação chuvosa. E a Amazônia desenvolveu um mecanismo muito eficiente de converter o vapor de água em gota e daí em chuva. Ela é uma máquina de fazer chuva. Nós descobrimos também coisas importantes sobre o ciclo de carbono. Passamos a quantificá-lo bem melhor…
Melhora a nossa medida dos danos do desmatamento…
Carlos – Hoje sabemos bem mais que antes quanto os desmatamentos emitem de gás carbônico, de metano. Nós sabemos que a grande parte da floresta não perturbada absorve carbono. Mas não é um processo uniforme. Há até lugares na Amazônia onde a floresta está perdendo carbono. Mas quando se faz uma média de toda a região ela acaba sendo um sumidouro. E como a área de floresta ainda é muito grande é algo significativo. Os melhores números que nós temos hoje são de que esse sumidouro de carbono empata com o desmatamento. O que se emite de gás carbônico pelos desmatamentos em toda a Amazônia é mais ou menos o que a floresta não perturbada está removendo de gás carbônico, através do seqüestro natural de carbono.
“HIPOTETICAMENTE, SE NÃO HOUVESSE DESMATAMENTO, AINDA ASSIM, O FATOR DO AQUECIMENTO FARIA UM GRANDE ECOSSISTEMA, UMA GRANDE FLORESTA COMO A AMAZÔNIA E OUTRAS FLORESTAS TROPICAIS VIRAREM FONTE DE EMISSÃO.”
Ou seja, se a gente continuar a desmatar, tem uma hora que esse jogo desequilibra de vez.
Carlos – Se continuar a desmatar, logicamente, esse jogo desequilibra, porque vai diminuindo a área que faz o seqüestro. Mas o mais crítico é que, com o tempo e com o aumento da temperatura, mesmo se não se derrubar mais uma árvore, o sistema todo passará a ser fonte de emissão de gás carbônico, porque quando a temperatura aumenta, a taxa de consumo do carbono no solo aumenta muito. Cria-se um excesso de matéria orgânica no solo, que é consumida e vai para a atmosfera como gás carbônico. Para se atingir um novo ponto em que a fotossíntese equilibraria de novo essa equação, seria preciso consumir 30% ou 40% do carbono da matéria orgânica que está no solo. Enquanto isso não acontecesse, toda a Amazônia seria fonte de emissão mesmo que não houvesse desmatamento.
E quanto tempo leva isso?
Carlos – Quando que a fonte vai ser maior que o sumidouro? Outra vez, sem o desmatamento, faz-se uma estimativa que na faixa entre 30 e 40 anos…
Se deixar como ela está agora, dentro de 30 ou 40 anos…
Carlos – Não é exatamente assim. Vamos supor, só o aquecimento, só o fator da temperatura, faria o que hoje é um sumidouro virar fonte em 30 ou 40 anos. O problema é que ele está acontecendo em paralelo ao desmatamento. Então a Amazônia viraria fonte de emissão antes do que em 30 ou 40 anos. O que estou dizendo é que, hipoteticamente, se não houvesse desmatamento, ainda assim, o fator do aquecimento faria um grande ecossistema, uma grande floresta como a Amazônia e outras florestas tropicais virarem fonte de emissão.
Até que ponto isso também faria a Amazônia virar uma savana?
Carlos – Em 1991, num estudo em inglês, cunhei o termo “savannization” entre aspas. Quando escrevi isso, não pensei em mudanças climáticas. Estava refletindo sobre os efeitos do desmatamento. O sujeito desmata. Uma região desmatada é mais quente e mais seca e, então, ela tem um clima mais propício à savana. Foi aí que eu fiz essa sugestão teórica, lá nesse estudo, e aí a idéia evoluiu muito, eu continuo estudando e várias outras pessoas, como o [Daniel] Nepstad também vem estudando esse assunto. Só que eu e meu grupo de pesquisa temos estudado isso mais pelo ponto de vista climático e ele estuda mais do ponto de vista ecológico, numa escala menor, sobre como essas espécies de florestas vão desaparecendo, e o efeito do fogo também.
É uma perspectiva distinta da sua.
Carlos – São duas maneiras diferentes de abordar. Eu estou abordando numa escala mais climática: o clima muda e aí fica mais seco e mais quente; e ele faz uma abordagem ecológica do papel do fogo. Agora essas duas abordagens estão chegando juntas, num projeto coordenado pelo Nepstad chamado “Cenários Amazônicos”. Mesmo sem fogo, o desmatamento modifica o clima. Vamos supor que você desmata uma grande área e depois você abandona, então o que é que vai crescer ali? Essa primeira sugestão, de 91, era que no Leste e no Sul da Amazônia não voltaria floresta. Voltaria uma savana, um cerrado. Em 2003, num outro estudo que nós publicamos, nós mostramos que todo o leste e sudeste da Amazônia, exceto a costa Atlântica, poderia virar savana.
Como acontece esse processo?
Carlos – Há três hipóteses principais, as três estão ocorrendo ao mesmo tempo e elas não são competitivas, são complementares. Uma é o desmatamento, a outra é a mudança climática e a outra é o fogo. O fogo é uma decorrência das outras duas: quando aumenta a temperatura aumenta a probabilidade de fogo e quando aumenta o desmatamento e, principalmente, quando aumenta a fragmentação da mata, aumenta a probabilidade de fogo. O fogo talvez seja o fator mais importante na aceleração da savanização. A savanização, só por fatores climáticos, aquecimento global e o impacto do desmatamento no clima, talvez fosse uma coisa lenta. E estamos começando a colocar o efeito do fogo nas nossas representações, para ver qual o seu efeito nos nossos modelos. Eu não acho que é uma projeção teórica e irrealista. Acho que o leste todo da Amazônia corre o risco no intervalo de 100 anos de virar uma savana. E o Dan [Nepstad], pelo lado da ecologia, não chama nem de savana, ele chama de savana empobrecida. Não é nem a savana rica, nem o cerrado senso strictu, com riqueza biológica. Seria uma savana pobre, com dominância de espécies muito resistentes ao fogo, resistentes ao solo lixiviado, solo já empobrecido.
E a água? Nesta savana que vai se formar haveria tanta água quanto há hoje? Ou seria drasticamente reduzida?
Carlos – Eu não consigo convencer alguns ambientalistas de que esta savana vai existir com uma pequena diminuição da precipitação anual. A precipitação anual não precisa mudar. É só a estação de seca ficar mais longa. É a sazonalidade que muda. A precipitação anual pode ser a mesma. E alguns ambientalistas, que não são da área de meteorologia ou clima, têm uma idéia fixa de que a chuva vai diminuir 50% ou mais. Não é necessário. Nenhum estudo, seja de mudanças climáticas, seja de desmatamento, indica uma diminuição das chuvas nessa magnitude. Nossos estudos, tanto de mudanças climáticas, quanto de desmatamento indicam diminuição das chuvas na faixa de 10% a 20% para desmatamento completo da Amazônia.
Você acredita que este processo provocado pelo aquecimento global pode ser revertido?
Carlos – Revertido eu acho que não. A roda já está rodando numa velocidade tão alta que não dá mais para parar. Talvez dê para diminuir a velocidade. Mas ela não pára mais. Eu até tive até uma discussão interessante sobre o princípio da precaução, numa reunião em que dois cientistas o qualificaram como conceito pseudo-científico. Há elementos fortes para defender o princípio da precaução na questão do clima. Por quê? Por uma razão física muito simples. A maioria destes gases na atmosfera tem um tempo de resistência de décadas, de séculos, de milênio. Se a gente continuar a aumentar a concentração desses gases estufa indefinidamente, e eles vão estar conosco por muito tempo, sem saber o que vai acontecer, o risco fica grande demais. Por isso temos que tomar cuidado, mesmo sem saber exatamente os efeitos. E o princípio da precaução se aplica também às incertezas e nós temos ainda muitas incertezas. Mas devem as incertezas impedir as ações de mitigação das emissões ou de adaptação? Não, porque pelo princípio da precaução, nós temos que partir da possibilidade de evitar o pior de acontecer.
Mas basta lutar para reduzir as emissões?
Carlos – Temos que agir também para nos adaptar, porque já passamos do ponto onde ainda daria para reverter o problema. Talvez desse há 50, 70 anos. Mas há 70 anos ninguém se preocupava com esse assunto e não havia uma base sólida de energia renovável. Era impensável uma economia que não fosse movida à petróleo e carvão. Hoje dá para imaginar essa possibilidade, mas a verdade é que ainda não se fez muito nem para tentar reduzir o nível de emissões de gases estufa na atmosfera. Oitenta por cento das emissões que circulam nela foram produzidas da década de 30 para cá. Nos últimos três anos a quantidade de gás carbônico que está ficando na atmosfera tem sido maior do que nos últimos 20 anos. Quer dizer, por ano, o aumento das concentrações de gás carbônico nos últimos 10 ou 15 anos foi de 1,5 partes de CO2 por milhão (de partes de ar), ou ppm, que é a unidade que se usa, e nos últimos três anos passou de dois. No ano passado, deu 2,5 ppm. Qualquer cientista que trabalha com esta questão está de olho. Se o nível continuar assim pelos próximos cinco, seis anos, significa que os oceanos e a biota terrestre estão perdendo eficiência na sua função de seqüestro dessas emissões. Se isso acontecer vai ser uma notícia péssima porque já mostra que muito mais cedo do que a ciência estava antecipando os sistemas que absorvem parte do excesso do gás carbônico injetado na atmosfera estariam começando a perder eficiência.
Alerta vermelho – Parte II
Sérgio Abranches, Manoel Francisco Brito, Carolina Elia e Andreia Fanzeres
Na segunda parte de sua entrevista, o climatologista Carlos Nobre diz que a maior urgência em torno da questão do aquecimento global é aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno.
Nos últimos cinco anos, descobriu-se que o efeito estufa está fazendo com que as geleiras da Groenlândia derretam a uma velocidade muito maior do que se supunha. O que antes levaria pelo menos mil anos para acontecer – um catastrófico aumento de seis metros no nível do mar – pode agora ocorrer em apenas 100 anos. “Mil anos, para o ser humano é uma eternidade”, diz o climatologista do Inpe Carlos Nobre, uma das maiores autoridades mundiais em aquecimento global nesta segunda parte da longa entrevista sobre o tema que concedeu a O Eco. “Mas 100 anos já permite ver sua linhagem direta, bisneto, tataraneto”. Nobre, ao invés de ver nisso razão para se apavorar, acha que a descoberta apenas mostra que é urgente aprofundar os estudos sobre o fenômeno. Pena que a comunidade científica brasileira capaz de estudar impactos de mudanças ambientais no país seja muito pequena. Talvez não passe de 30 pessoas. O governo nunca fomentou esse tipo de pesquisa e tampouco investiu em equipamentos necessários para desenvolvê-la. O resultado dessas políticas é que estamos sendo ultrapassados na produção de conhecimento por países, a China por exemplo, que há 10 anos estavam bem atrás de nós. A boa notícia nessa área é que a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) inicia, em 2007, um programa de 10 anos para preparar cientistas para estudos de mudanças climáticas. A má notícia, conta Nobre, é que por enquanto a iniciativa está restrita a São Paulo.
A idéia de que estamos nos aproximando de um momento de ruptura (“tipping point”) na questão do clima tem base científica ou é alarmismo?
Carlos – Cientificamente, tipping point é uma coisa muito séria. Há inúmeros grupos estudando o assunto, mas ainda muito sob o aspecto teórico, sobre o quão estáveis ou instáveis são os sistemas complexos, no caso, o sistema climático ou sub-componentes do sistema climático – como o gelo em cima do oceano Ártico. Eu trabalho com o assunto do “tipping point” da floresta amazônica, bem como outros cientistas que estão investigando a questão em outras áreas. E nenhum de nós diz que o sistema terrestre [está] próximo de um ponto de ruptura ou virada. O que a comunidade científica diz é que nós não podemos excluir a possibilidade de que esses “tipping points” existam. Mas os cientistas que trabalham com os objetos mais importantes na investigação da ruptura, como o colapso das florestas tropicais, o gelo em cima do Oceano Ártico, a camada de geleira em cima da Groenlândia, a circulação termohalina…
Desculpe. Circulação o quê?
Carlos – A maioria das correntes superficiais oceânicas existe por causa dos ventos. Os ventos transferem energia para as camadas superiores dos oceanos e geram as correntes. Mas há correntes oceânicas que existem devido a gradientes de densidade: se um lugar no oceano tiver água mais fria e, portanto, mais pesada, essa água desce e pode circular em profundidade por milhares de quilômetros na horizontal. Aí, depois de um certo momento essa água pode ficar mais leve do que outras massas de água circunvizinhas e ela sobe e pode chegar à superfície. O que determina a densidade da água do mar são dois fatores: temperatura e salinidade. Quanto maior a salinidade da água do mar, mais densa ela é. Essas circulações provocadas por diferenças na densidade da água ocorrem por todo o oceano.
E a termohalina é uma delas…
Carlos – É a mais importante delas. Ela começa lá no norte do Atlântico, entre a Groenlândia e o Canadá. Quando a água chega ali ela é uma água salina, mais densa. Mas a temperatura baixa a faz esfriar, aumentar a densidade e a água afunda uns cinco quilômetros e começa a circular para o sul por todo oceano Atlântico. Essa água sobe um pouco perto da Antártica, depois no Índico e outra vez no Pacífico. Daí entra no Atlântico em direção ao norte, onde tudo começa outra vez. Bom, esta circulação se associa à corrente de água mais quente da superfície – a corrente do Golfo – no Atlântico Norte e chega até a costa da Escandinávia e da Grã-Bretanha. Estas correntes explicam 50% do fato de que na Grã-Bretanha o clima é relativamente ameno, considerando que estas ilhas estão numa latitude alta. Aí, o que é que acontece? Como se faz para parar ou diminuir a intensidade dessa corrente? Fácil. Basta misturar a água do oceano com água doce. E como isso seria possível? Com o derretimento de gelo no leste do Canadá e na Groenlândia. A mistura reduziria a densidade da água salgada e ela não desceria mais, interrompendo a circulação da corrente. A repercussão disso seria global. A água quente não banharia mais a Escandinávia e a Inglaterra e temperatura na região cairia entre 2° e 3,5°. Também esfriaria uma parte do norte do Canadá e a costa dos Estados Unidos, segundo algumas projeções.
Essa é uma lembrança importante, porque a maioria dos leigos pensa que o aquecimento global só esquenta…
Carlos – Essa corrente termohalina é a motivação do filme The Day After Tomorrow. Lembro que, no começo do filme, aparece um oceanógrafo vendo a temperatura lá no norte do Atlântico cair 10° em duas semanas. Nesse ponto, o filme exagerou, pois isto é muito fantasioso.
ESSES ESTUDOS SÃO MUITO TÉCNICOS E A MÍDIA, QUANDO SE APROPRIA DELES, DÁ ÀS VEZES UM DESTAQUE “SENSACIONALISTA”
Mas esse princípio não seria correto?
Carlos – Há várias previsões que dizem que isso pode acontecer numa escala de muitas décadas daqui a 100 ou 200 anos. Outros que dizem que seria em mais de 1000 anos. Se acontecer, é lento, não é uma coisa que o cara pode ver a temperatura despencar em 15 dias.
Estudos recentes sobre o derretimento da Groenlândia indicam que ele está ocorrendo de forma mais acelerada. Devemos nos apavorar?
Carlos – Esses estudos são muito técnicos e a mídia, quando se apropria deles, dá às vezes um destaque “sensacionalista”. O que acontece é o seguinte: até uns 5 anos atrás se faziam uns cálculos de quanto tempo levaria para derreter de dois a três quilômetros da geleira da Groenlândia. Só para dar uma idéia, se toda aquela massa derreter, são 6 metros de aumento no nível do mar. É um volume imenso de água, então a pergunta é, se continuar a aquecer quando vai derreter? Os cálculos até 5 ou 6 anos atrás davam uma ordem de mil anos a dois mil anos. Para o ser humano, é uma eternidade. Mas cálculos mais recentes trouxeram esse limite para terríveis 100 a 300 anos. Bom, 100 anos já te permite ver sua linhagem direta, bisneto, tataraneto, tendo que encarar o problema. A coisa fica mais assustadora, Então, todo mundo agora levantou a pálpebra e disse: “ôpa, o que é que tá acontecendo”?
E o que é que está acontecendo?
Carlos – Através de técnicas muito cuidadosas, empregando satélites de alta precisão, os cientistas refizeram suas medições a partir de marcadores colocados tanto nas geleiras fixas quanto nos rios de gelo…
Rios de gelo?
Carlos – Qualquer geleira tem um rio de gelo. A neve cai, forma a geleira e centenas ou milhares de anos depois, esse gelo vai deslizando em direção ao oceano, como se fosse um leito de rio. O que eles viram com esses estudos recentes muito detalhados, é que o escoamento, a quantidade de gelo chegando no oceano, aumentou 30%, 40%, 50%. Isso é, aumentou a velocidade do gelo descendo a geleira. É essa rapidez que anda chamando a atenção. Porque a diferença entre as duas teorias, a que diz que vai levar de mil a dois mil anos e a teoria que diz de 100 a 300 anos, tem a ver com um fator de instabilidade das geleiras. Tem a ver com fissuras do gelo. Há lá uma massa de gelo, dois quilômetros de profundidade. Vamos supor que esse gelo quebre em alguns pontos e crie fissuras. Aí, a água líquida da superfície da geleira, durante o verão, entra nessas fissuras e consegue chegar na rocha, diminuindo seu atrito com o gelo e portanto acelerando sua descida em direção ao oceano. Então se você lubrificar com água todo esse processo, ele tende a ocorrer mais rápido. Essa é a teoria e nós vamos saber em breve, dentro de alguns anos, se ela é válida. Os cientistas já observaram que o número de fissuras em cima da plataforma da geleira na Groenlândia está aumentando.
A freqüência recente de artigos sobre aquecimento global tem a ver com o amadurecimento da pesquisa científica sobre o assunto?
Carlos – Há dois fatores. Um é esse. O outro está relacionado com uma atitude escapista do Bush pai durante a ECO-92. Para não se comprometer com ações de maior concretude, nem verbalmente, ele falou a frase célebre: “We need more studies”. E isso desencadeou um financiamento muito grande, o US Global Change Program, de mais de 1 bilhão de dólares lá atrás e agora quase 2 bilhões. Realmente tem muito dinheiro nos Estados Unidos e também muito dinheiro na Europa, no Japão e em outros países desenvolvidos para esta área. A tendência da maioria dos países desenvolvidos foi financiar muito bem este tipo de pesquisa. E o resultado está vindo.
O SISTEMA BIOLÓGICO PERCEBE ANTES DO QUE OUTROS SISTEMAS, E DO QUE NÓS, ESSAS MUDANÇAS.”
E o outro fator?
Carlos – O outro, é ditado pela importância do tema. A comunidade científica abraçou esse tema como de grande relevância para o futuro. Então, é uma competição saudável, cada um querendo publicar antes do que o outro, detectar um efeito e muita coisa boa está sendo feita. Muitos trabalhos publicados hoje são o impacto do aquecimento na biodiversidade. O sistema biológico percebe antes do que outros sistemas, e do que nós, essas mudanças.
Na migração de espécies, por exemplo.
Carlos – Exato. O estudo desse impacto virou uma febre. Estudos sobre mudanças nos oceanos, na circulação termohalina ou na circulação atmosférica, eu diria que aparece um de grande destaque por mês. Já na biologia, aparece um muito bom por semana.
Num prazo de 100 a 300 anos, caso o aquecimento global venha como está sendo presumido, dá para ter uma noção de como fica o Brasil?
Carlos – O que vai mudar na geografia da costa brasileira? Logicamente a gente ainda nem trabalha com estes cenários catastróficos de aumentos de muitos metros. Nós trabalhamos com cenários com um aumento até o final do século entre 20 e 80 centímetros no nível do mar. Mas, se chegar perto desse limite superior, 50 cm, 80 cm ou um metro, a costa brasileira muda muito. E o Brasil não seria o país mais prejudicado do mundo, porque ele não tem extensões muito planas próximas da costa. Mas o problema é que nossa civilização urbana chegou e dominou a interface do mar com a terra. Quer dizer, ela se espalhou em cima praticamente do oceano. Vide o Aterro do Flamengo. Ele está, digamos, a mais de um metro acima do nível do mar. Com 80 centímetros a mais no nível do mar, vai ter que construir um quebra-mar alto, porque pode ser que a água do mar em muitas circunstâncias invada. Em Pernambuco, há rios de porte que passam dentro da cidade. Com um metro de aumento do nível do mar, isso exigiria que Recife construísse diques em todos os rios, quase até as cabeceiras, porque a área do município é totalmente urbanizada. Num cenário desses o que mudaria radicalmente seria o litoral do mundo. Com um metro de aumento, 30% de Bangladesh ficaria abaixo do nível do mar, as pequenas ilhas do Pacífico desapareceriam. Várias delas, porque são muito planas, estão a uns 40 ou 50 centímetros e os pontos mais altos estão a um ou dois metros e praticamente desapareceriam.
Alguém está preocupado com isso no Brasil?
Carlos – Ainda não. Mas outros países já estão. A Inglaterra construiu um barra-maré na foz do Tâmisa que é um negócio gigantesco, estranho, que simplesmente impede a entrada de maré rio adentro quando tem maré alta junto com tempestade. Se tem maré alta e tem uma tormenta que está soprando o oceano contra a costa, a soma dos dois resultava em enchentes em Londres fantásticas, que sempre existiram. A última grande foi na década de 60 e aí então eles resolveram construir esta coisa massiva de engenharia. Bloqueia fisicamente a entrada do mar e nunca mais tiveram essas grandes enchentes. Mas com um metro a mais no nível do mar, eles têm que reformular toda essa engenharia. Já têm até o plano. É um projeto de dezenas de bilhões de dólares, só para proteger contra as enchentes do futuro. Ou seja, tem países que não estão brincando em serviço.
É muito diferente ser um climatologista num país como o Brasil do que ser um climatologista num país como os Estados Unidos?
Carlos – O Brasil é um país em desenvolvimento. A gente aqui luta com um grau de dificuldade que os cientistas de países desenvolvidos não enfrentam normalmente. Eu até acho que esta área, e imodestamente eu vou dizer a área em que eu trabalho, avançou muito. Proporcionalmente falando, nós hoje estamos mais perto do que se faz no mundo desenvolvido, em termos científicos, do que a média dos países em desenvolvimento. Eu diria que hoje o Brasil está no nível da China, e da Coréia do Sul e um pouco acima de outras nações em desenvolvimento. Há uns 10 anos atrás nós estávamos bem melhor do que a China. Mas ela já ultrapassou o Brasil nesta área e também a Coréia do Sul. A China está investindo muito. Só para dar a idéia, a China publica mais ou menos 1000 trabalhos científicos sobre mudanças ambientais globais, não só climáticas, por ano e o Brasil está publicando 150, 200, talvez. A sua comunidade de cientistas, entretanto, talvez seja apenas três vezes a do Brasil. Não é muito maior. Mas eles estão crescendo muito rapidamente. Aqui se formam uns 10 mil doutores todo ano. Lá, 15 mil.
QUANDO A GENTE JUNTA TODO MUNDO QUE TRABALHA NESSA ÁREA DE IMPACTOS, NÓS NÃO TEMOS NO BRASIL MAIS DE 30 PESSOAS.”
Os limitantes aqui são dinheiro e equipamento?
Carlos – O limitante principal é o tamanho da comunidade científica. Nós crescemos muito nos últimos anos, mas ainda assim somos muito poucos para fazer face aos desafios de um país tão diverso. Por exemplo, vamos supor que a gente quisesse fazer um estudo rigoroso do que pode acontecer na agricultura, biodiversidade, zonas costeiras, saúde, energia, recursos hídricos, megacidades, com as mudanças climáticas nos próximos 100 anos. Nós não temos no Brasil cientistas trabalhando em todas essas áreas. Há áreas que nós precisamos desenvolver do zero. Entender impactos na agricultura está muito no comecinho, recursos hídricos não tem praticamente ninguém, zonas costeiras têm dois professores aqui na UFRJ e um em Pernambuco, saúde tem um na Fiocruz. Então, quando a gente junta todo mundo que trabalha nessa área de impactos, nós não temos no Brasil mais de 30 pessoas. Mesmo que alguém do governo viesse e falasse “olha eu vou por cinco milhões de reais por ano para desenvolver essa área”, não haveria mão de obra qualificada para usar o dinheiro imediatamente.
É falta de interesse?
Carlos – Um pouco é culpa do governo. Ele pouco fomentou, pouco induziu este tipo de pesquisa sobre impactos das mudanças climáticas. Estamos na fase da reação a essa situação, mas vai demorar um pouco para a nova geração aparecer. Em São Paulo, estamos envolvidos agora com a proposição de um programa, na Fapesp, muito grande. Começará provavelmente no ano que vem. Infelizmente é só São Paulo, mas já é um começo e é um recurso bom para um programa de longo prazo, por 10 anos ou mais, para desenvolver ciência e cientistas nessa área de estudo de impactos das mudanças climáticas.
Do ponto de vista de equipamentos estamos bem?
Carlos – Uma vez, em 1998 no Rio de Janeiro, eu estava numa reunião científica por mim organizada sobre o uso de satélites nessa área de mudanças ambientais globais. Aí, um francês que trabalhava na NASA, muito arrogante, disse: “essa área é um clube de um bilhão de dólares”. Ele queria dizer que quem não tem um bilhão de dólares por ano para montar satélites ambientais, não pode fazer ciência de alto nível na área. Eu fiquei chateado, pois isso jogava o programa espacial do Brasil na segunda divisão. Mas ele tinha um pouco de razão. Um bilhão de dólares pode parecer um exagero, mas só para dar uma idéia, a China já chegou a essa cifra no seu programa espacial. Quem mais gasta um bilhão de dólares com satélites ? Estados Unidos, Europa como um todo, com a European Space Agency, ESA, o Japão e agora a China. A Índia está em 600 milhões de dólares e o Brasil gasta menos de 100 milhões de dólares. Então, nós estamos muito, mas muito longe. A NASA tem um orçamento total de 16 bilhões de dólares. Dois bilhões são para aeronáutica e o resto é espaço. É muito difícil avançar e ser competitivo. Avançar no programa espacial brasileiro é muito valoroso e valioso e tínhamos que capacitar gente e mostrar que o Brasil tem uma comunidade de engenheiros e de cientistas que podem fazer satélites como estes que são feitos em conjunto pelo Brasil e pela China no Programa CBERS.
Diante das restrições orçamentárias, tem alguma saída?
Carlos – O Brasil tem que achar um nicho. O diretor atual do INPE, Gilberto Câmara, é da área de sensoriamento remoto e geoprocessamento e tem uma noção muito clara de qual é o nicho do Brasil. Nós não vamos conseguir chegar ao nível da Índia com 600 milhões de dólares no curto prazo. Então, qual é o nicho para a gente conseguir subir para 150 ou 200 milhões? A idéia do INPE é que o nosso nicho é a Amazônia. De um modo geral, nós devemos fazer satélites e sensores para monitorar a Amazônia ou, de modo mais geral, o ambiente variado e em rápida transformação do nosso país. Isso teria um alcance global. É uma visão correta, mas não será fácil colocá-la de pé, isto é, dobrar os investimentos no programa espacial em poucos anos.
Por quê?
Carlos – Essa tecnologia avança muito rapidamente e a competição é duríssima. O Brasil investe dinheiro em pesquisas espaciais, mas historicamente colocou ênfase no desenvolvimento de um veículo lançador. Do dinheiro do programa espacial brasileiro, 60% na média foi para a tentativa de se fazer um veículo lançador. O resto foi investido em sensores e satélites. O Brasil acreditou que era uma potência e os foguetes serviriam para confirmar isso. Há que se fazer uma séria reflexão sobre qual é o melhor caminho para o Brasil em seu programa de utilizar o espaço para observar o nosso território…
Hoje conhecemos mais a Amazônia, ou os Estados Unidos sabem mais daquela região do que a gente?
Carlos – Eu acho que hoje o Brasil já é o país que mais estuda a Amazônia. Mas ainda gastamos pouco nessa área.
Quanto?
Carlos – Se você somar o orçamento anual de todas as pesquisas de todas as universidades na Amazônia, mais os institutos de pesquisa na Amazônia, não passam de uns 120 milhões de reais, incluindo nesta conta as bolsas de estudo. O orçamento do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, o mais importante centro de pesquisa sobre ecossistemas tropicais localizado nos Trópicos, não chega a uns 30 milhões de reais. É muito pouco mesmo para fazer frente minimamente às imensas necessidades de conhecimento científico que o desenvolvimento sustentável da Amazônia requer.